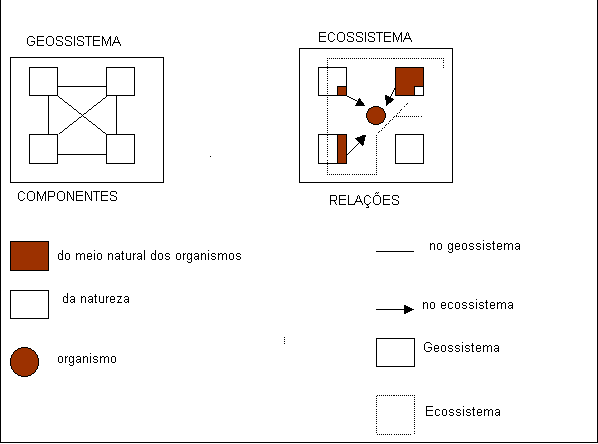
3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 - GEOSSISTEMA E SISTEMAS NATURAIS – TEORIAS E TEÓRICOS
O estudo do Geossistema começou a ser desenvolvido recentemente, tendo esta linha de pesquisa o objetivo de colher dados e fazer correlações para podermos entender a natureza com todos os seus componentes e, de acordo com TROPPMAIR (1989), "formar um sistema representado por modelos". É um conceito relativamente recente em geografia, sendo proposto na antiga União Soviética na década de 1960, e primeiro mencionado pelo Russo Sotchava, como uma forma de estudo de paisagens geográficas complexas (CRUZ, 1985). Segundo Sotchava Geossistema é o "potencial ecológico de determinado espaço no qual há uma exploração biológica, podendo influir fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial". Toma-se forma neste momento a disciplina interface entre as ciências da terra e a ciência da paisagem. Desde então surgiram diferentes tipos de abordagem físico-geográficas, marcadamente sistêmicas, redundando "diferentes escolas para o estudo das paisagens" (MELO, 1997) e, como é habitual em tudo que é novo, gerou diferentes abordagens e um bom número de controvérsias, com autores criticando, redefinindo ou reorientando o conceito inicial de Sotchava.
O fundamento do enfoque geossistêmico é encontrado na "Teoria Geral dos Sistemas" e uma parte substancial de esforço na tentativa de aplicação de um paradigma sistêmico em Geografia Física pode ser encontrado nos estudos das paisagens. Podemos destacar como pesquisadores com preocupações sistêmicas o próprio Sotchava alem de Strahler, Bertrand, Chorley, Kennedy, Hagget, Stoddart, Terjung, Hidore e Christofoletti. Dois dos pioneiros dos estudo geossistêmico foram Sotchava (1963) e Bertrand (1968).
O estudo dos sistemas, que já prestara relevantes serviços às ciências exatas, foi primordialmente introduzido à Geografia por Chorley em 1962, embora de acordo com JOHNSTON (1986), a análise de sistemas já tenha sido promovida por SAUER em 1925 quando afirma: "os objetos que existem juntos na paisagem, existem em inter-relação". Ainda neste sentido precursor CHRITOFOLETTI (1987) também cita como possíveis pioneiros STRALER (1950), CULLING (1957) e HACK (1960).
O princípio básico do estudo de sistemas é o da conectividade. Pode-se compreender um sistema como um conjunto de elementos com um conjunto de ligações entre esses elementos; e um conjunto de ligações entre o sistema e seu ambiente, isto é, cada sistema se compõe de subsistemas, e todos são parte de um sistema maior, onde cada um deles é autônomo e ao mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou seja, existe uma interrelação direta com o meio.
Quando não ocorrem as ligações sistema/ambiente ele é denominado sistema fechado; muito raros de se encontrar na natureza. É mais comum depararmos com o que seria um conjunto de aglomerados, interligados por redes de comunicações, formando um sistema espacial, no qual as ligações com outros sistemas ou aglomerações situadas fora de sua área constituem os contatos ou as interações com o ambiente. Ao analisarmos um dado espaço, se nós avaliamos apenas os seus elementos, sua natureza, sua estrutura ou as possíveis classes desses elementos, não ultrapassamos os limites da descrição. É somente a relação que existe entre as coisas que nos permite realmente conhecê-las e defini-las, isto é, "fatos isolados são abstrações e o que lhes dá concretude é a relação que mantêm entre si" (SANTOS, 1982). Todos sistemas devem descrever-se como realidades mistas de objetos e de relações que "não podem existir separadamente de tal modo que não exclua a sua unidade" (GODELIER, 1967). A realidade é complexa nas ligações entre suas variáveis, mas a análise sistêmica teve o mérito de fornecer uma abstração adequada daquela complexidade, de maneira a manter as conexões mais importantes.
Os Sistema Ambientais Físicos, ou Geossistemas, seriam a representação da organização espacial resultante da interação dos componentes físicos da natureza (sistemas), aí incluídos clima, topografia, rochas, águas, vegetação e solos, dentre outros, podendo ou não estarem todos esses componentes presentes.
Deve-se ter em mente que Geossistemas não devem ser confundidos com Ecossistemas, tanto em função de sua espacialidade, quanto, e principalmente, no concernente ao seu foco. O Ecossistema, de acordo com CHRISTOFOLETTI (1995), pode ser qualquer "unidade que inclui a totalidade de organismos em uma área interagindo com o meio ambiente físico, de modo que o fluxo de energia promove a permuta de materiais entre os componentes vivos a abióticos", já MELO (1997) define ecossistema como sendo "uma certa unidade entre um organismo individual, a população ou a comunidade e seu meio de vida (...) a associação de organismos vivos e substâncias inorgânicas, ou seja, com o meio de sua subsistência, formando sistema ecológico"; assim o ecossistema estaria diretamente ligado à Ecologia. CAVALCANTI & RODRIGUES (1998) utilizam a representação, mostrada na figura 07, da interrelação dos diversos componentes do Geossistema e Ecossistema, destacando que o ecossistema sempre mantém os fluxos convergentes ao organismo:
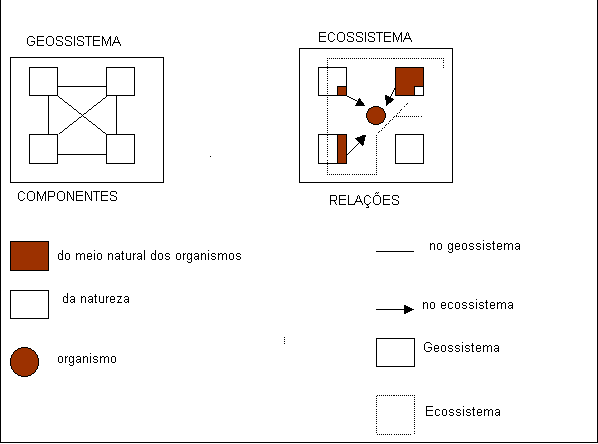
Figura 07 – Representação formalizada do Geossistema e do Ecossistema
Fonte:RAIJ (1975) in CAVALCANTI & RODRIGUEZ (1998)
O Geossistema natural seria, ainda de acordo com Cavalcante & Rodrigues, o sinônimo do conceito de "Paisagem Natural" ou "Paisagem Antropo-Natural".
Para melhor entender essa concepção geossistêmica e toda o debate dela provindo devemos destacar o que afirmou Sotchava sobre o Geossistema:
_ "em condições normais deve-se estudar, não os componentes da natureza, mas as conexões entre eles; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas divisões mas, de preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc".
Ele destaca ainda o dinamismo do geossistema que além de abertos podem ser hierarquizados dentro de sua organização que pode ser desde uma área elementar da superfície até o planeta, passando por subvisões ou categorias intermediárias, lembrando no entanto que as unidades espaciais do geossistema acham-se na dependência de sua organização geográfica, sendo assim suas subdivisões não são ilimitadas. Sotchava destaca o tempo e o espaço como fatores a serem considerados em um geossistema, sendo que esse tempo deve ser avaliado por meio de eras, a "mobilidade no interior do estágio de uma era é a essência de sua dinâmica e a transição de em estágio temporal para outro, significa sua evolução"(SOTCHAVA, 1962). Como ponto importante na avaliação de Sotchava está sua vinculação de valores sociais e econômicos ao geossistema, quando afirma:
_ "os geossistemas são fenômenos naturais, todavia os fatores econômicos e sociais, ao influenciarem sua estrutura e peculiaridades espaciais, devem ser tomados em consideração".
TRIACART (1982) tece uma série de críticas às definições de Sotchava, principalmente argumentando que ele não da às suas idéias uma explicação ou exemplificação coerentes e suficientemente claras. Ele chega mesmo a afirmar que algumas definições de Sotchava deixavam-no em "perplexidade" citando um trabalho apresentado no Congresso Internacional de Geografia de Moscou onde Sotchava definia Geossistema como "uma unidade dinâmica com organização geográfica própria", e "um espaço que permite repartição de todos os componentes de um geossistema, o que assegura sua integridade funcional". Tricart cobra de Sotchava "exemplos precisos" e termina por afirma que "tudo isso está muito confuso, muito verbal, muito pouco dialético".
CRUZ (1985) afirma que para se dar um prognóstico "geográfico integral" levando-se em consideração a enunciação de Sotchava é necessário "ser feito `a base da dinâmica do ambiente natural e isto somente é possível pela análise setorial. Ambas as abordagens setorial e integral devam interpenetrar-se e manter interfaces". Fatores econômicos e sociais devem ser levados em conta no estudo do Geossistema, embora esse seja um fenômeno natural, já que suas atuações refletem na natureza.
BERTRAND (1971) dá ao Geossistema uma conotação uma pouco diferente de SOTCHAVA; para ele o Geossistema (fig. 08) é uma unidade, um nível taxonômico, na categorização da paisagem: zona ® domínio ® região ® geossistema ® geofácies ® geótopo.
(Geomorfologia + Clima + Hidrologia) (Vegetação + solo + fauna)
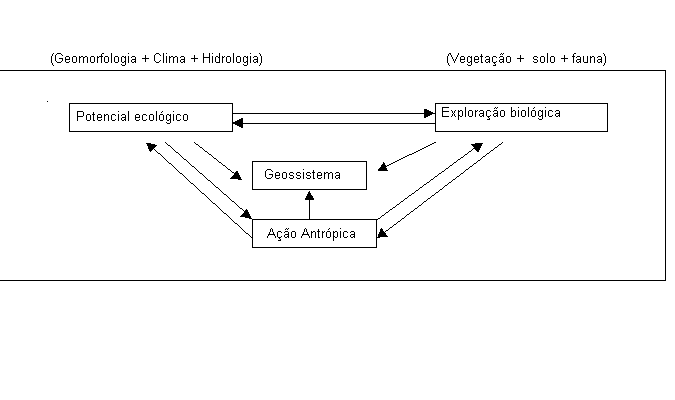
Potencial ecológico Exploração biológica
Geossistema
Ação Antrópica
Figura 08 – Geossistemas Segundo Bertrand
Fonte: BERTRAND (1971) in RIBEIRO (1997) p.67
Tanto no Geossistema quanto no geofácies, pode-se distinguir o potencial ecológico (combinação dos fatores geomorfológicos, climáticos e hidrológicos) e a exploração biológica, isto é, o conjunto dos seres vivo e o solo. O geofácies e o geótopo são unidades de análise. Mais do que SOTCHAVA, BERTRAND incorpora o elemento antrópico em sua definição de Geossistema. Ele define geofácies como um setor fisionomicamente homogêneo onde se desenvolve uma mesma fase da evolução geral do geossistema, e o geótopo é uma microforma no interior do geossistema e dos geofácies – é a menor unidade geográfica homogênea diretamente discernível ao terreno -, uma particularidade do meio ambiente.
Já TROPPMAIR (1989) caracteriza o Geossistema como sendo parte de um sistema aberto, homogêneo e "espacial natural" e distinguido por três aspectos que são a sua morfologia (expressão física do arranjo dos elementos e da conseqüente estrutura espacial), sua dinâmica (fluxo de energia e matéria que passa pelo sistema e que varia no espaço e no tempo), e sua exploração biológica (flora, fauna e o homem). Para ele Geossistema é:
"...parte da geosfera e, numa perspectiva vertical, engloba as camadas superficiais do solo ou pedosfera, a superfície da litosfera com os elementos formadores da paisagem, a hidrosfera e a baixa atmosfera, mas abrange também a biosfera, como exploradora do espaço ou do sistema".
Um ponto de discussão acerca da conceituação inicial de SOTCHAVA é sua afirmação de que os geossistemas são "formações naturais" já que o conceito de natural é discutível em função do homem, onipresente em todos os cantos desta geosfera, alterar constantemente esta natureza. Mesmo com a alteração antrópica D. MELO (1997) afirma que:
"complexo natural não deixa, pelo menos em parte, de existir e de influir sobre a utilização do território (...) ao considerar um geossistema derivado como antrópico nega-se o princípio da inter-relação sistêmica entre os componente naturais (...) o mais correto seria considerar o mecanismo complexo de interação dos objetos tecnogênicos nos geossistemas e não um espaço que deixou de ser natural".
e termina por concluir que:
"a análise geossistêmica se limita a considerar o impacto econômico e social sobre o geossistema, isto é, as modificações impostas à sua estrutura e suas conseqüências sobre os estados e o comportamento do geossistema".
A abordagem geossistêmica, ainda de acordo com MELO (1997), é área de atuação da geografia física e jamais poderá ser tratada como "resultado de mesas redondas interdisciplinares"; entrando em choque com RIBEIRO (1997) que afirma ser o geossistema um sistema "físico – biológico com marcante presença humana" objeto de estudo "interdisciplinar ou transdisciplinar".
Existe, como ficou exposto no parágrafo anterior, dificuldade em se encontrar uma clara e única significação ou conceituação de geossistema, por isso tantas são as diferentes definições até aqui apresentadas. Alguns tópicos são no entanto consensuais ou, no mínimo, estão de maneira mais insistentemente repetidas, como é o caso da ênfase dada ao aspecto natural do geossistema, variando apenas a importância dada à ação antrópica, ou a problemática do espaço, onde o questionamento está na sua área.
O geossistema é certamente um sistema natural, mas o ser humano jamais pode ser apenas um figurante em sua análise. O homem é parte integrante da natureza, de sua evolução e transformação, de modo que se estiver uma ação antrópica a afetar essa natureza ela (a ação antrópica), poderá certamente fazer parte do geossistema, principalmente se tivermos em vista que mesmo modificado pelo homem o sistema continua a possuir componentes naturais.
Quanto à sua área ela deverá variar de acordo com o objetivo a alcançar, nunca poderá ser conceitualmente predeterminada. Cabe ao pesquisador encontrar seus limites sempre lembrando-se que o espaço deve ser considerado como uma totalidade, porém a prática exige que ele seja dividido em partes para sua melhor análise, e essas partes só terão sentido quando considerado suas interrelações. É importante não esquecer que em sua delimitação deverão ser encontrados aspectos homogêneos e quanto maior a área menor a chance de encontrá-los. Por outro lado geossistemas muito pequenos correm o risco de ter um caráter muito significativamente verticalizados, mais afeito ao estudo biológico, restringindo a interrelação de seus componentes.
Mas e afinal o que faz parte do geossistema? Quais os seus componentes? Para dar uma resposta a essas perguntas é necessário voltar-se ao objetivo, pois é sempre ele que dará ou direcionará as respostas. Seus elementos variam ou mudam de valor de acordo com o momento histórico ou com o lugar que se encontram e devem ser considerados de acordo com seu valor em um dado momento. O relevo, vegetação, solo, clima, hidrografia, ou qualquer outro componente, mesmo os antrópicos, poderão ser considerados na análise geossistêmica desde que haja uma homogeneidade, uma relação mútua e um valor qualitativo em sua estrutura. Não existe um limite máximo de componentes mas existe um limite mínimo já que apenas um elemento isolado deixa de ter o caráter de interrelação fundamental no geossistema. O clima, devido à sua espacialização, poderá fazer parte de vários geossistemas, mas é perigoso considerar apenas dois elementos como sendo um geossistema único já que isso restringe sua complexidade transformando-o em um sistema do tipo processo-resposta voltado para os fluxos de energia, mais afeito ao ecossistema. Para que se possa delimitar um geossistema devemos ter em seu interior elementos em quantidade e valor suficientes para que sua mutualidade possa ser avaliada em função de seus processos intrínsecos e extrínsecos dentro de uma visão geográfica horizontalizada.